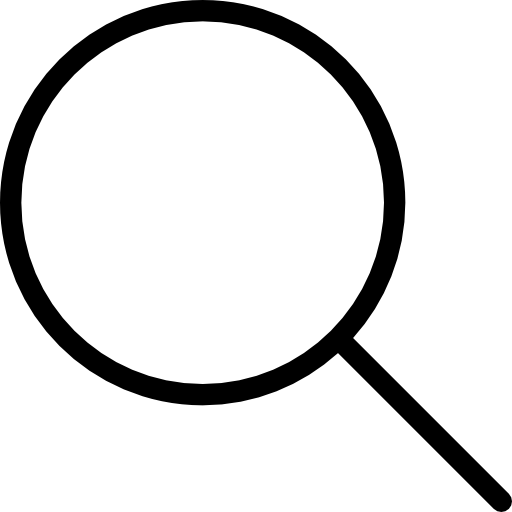ARTIGOS
Aquela criança não existia
Por RICARDO A. FERNANDES, [email protected]
[email protected]
Publicado em 13/05/2021 às 16:25
Alterado em 13/05/2021 às 17:46
Ligo a TV e vejo a imagem de uma cadeira vazia. No chão, a mancha vermelha cerca o assento de plástico, soberano. O vermelho delimita a fronteira intransponível. De longe, pessoas observam. Baixam a cabeça, talvez não compreendam o ocorrido. Ou evitam o cheiro de sangue seco num dia abafado. O calor aquece o piso, levanta o perfume de chacina recente. Dizem que era corpo de menino. Alguém veio e recolheu. Recolheu? Quem tirou a prova? O funcionário lava o chão do bar onde jazia a prova. Antes, um sinal da cruz, última homenagem. Horas depois, aquela criança não existia.
É noite. Sozinho no carro, dirijo pelo centro da cidade. A luz baixa não funciona. Como as ruas estão mal iluminadas, acendo a luz alta. Vinte metros à frente, um garoto protege os olhos da claridade. Levará segundos até que veja novamente, o mundo invisível para si. Ele tampouco existe para o mundo. Usa um calção, apenas. Seu corpo busca calor nas mãos, de dedos abertos, feito aranhas a envolver suas costelas. Temo circular pelas ruas vazias. No cruzamento, burlo as regras de trânsito e avanço o semáforo. Assalto iminente? Acelero. De soslaio, reparo em aglomeração à minha esquerda. Pessoas andam de uma calçada a outra em ziguezague. Pouco à frente, uma criança de cócoras. Sua cabeça está curvada. Deve ter uns três, quatro anos. Olha para o muro, o pequeno. Talvez a pouca idade lhe reserve a coragem necessária para perceber o mundo do qual seus olhos fogem. Mas ele está lá, o sereno na pele não o deixa esquecer o escuro frio infinito. Uma jovem mulher se aproxima da criança, puxa-a pelos braços e, num movimento de pêndulo, a joga sobre os ombros, como a um saco de batatas. Não há choro, só medo e ausência. Na pancada do corpo com o ombro da jovem, talvez se quebre o último vestígio de coragem.
O sangue no chão do bar. As costelas magras do rapaz iluminado. A pancada do pequeno nos ombros da jovem. O escuro frio que esconde e oprime a infância. Dia seguinte, das bocas autoritárias, ouve-se: são bandidos. Me pergunto: quem são os mocinhos que matam crianças? A balas, a frio, a ausência? A jovem que jogou o menino nos ombros: quantos anos tem? Quinze, no máximo? Dez anos atrás, era ela a olhar para o muro. O que temia? Ou escondia o rosto de vergonha pelo sofrimento que os adultos lhe impunham? Pediria ela perdão ao muro, seu Deus, o único que não soprava o vento cortante contra os braços nus?
Nas ruas, quantos morreram, subnotificados? Não pertencem aos mais de quatrocentos mil dignos a, ao menos, uma menção cartorial. Não há identidade que os suporte. Vivem à sombra da noite. Aquelas ruas, cruzadas por pernas cambaleantes, é o resto de espaço aceitável à sua presença física. De dia, enfurnados debaixo de um banco, uma ponte, ou num pequeno quarto, a luz do sol não lhes pertence. Muitos não chegam à idade adulta, condenados a não crescer. São crianças que nunca existiram.
É de manhã. Ligo o computador e leio matéria alusiva a outras crianças e à excelente performance dos seus brinquedinhos. O texto dizia que o pior havia ficado para trás e mostrava números animadores. Bradesco: lucro de 6,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021; Itaú: 6,4 bilhões no mesmo período; Santander: 4 bilhões; Banco do Brasil: 4,9; Caixa Econômica Federal: lucro de 4,6 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano em que mais se morre de fome, bala e vírus.
Publicitário, escritor e membro da União Brasileira de Escritores-SP