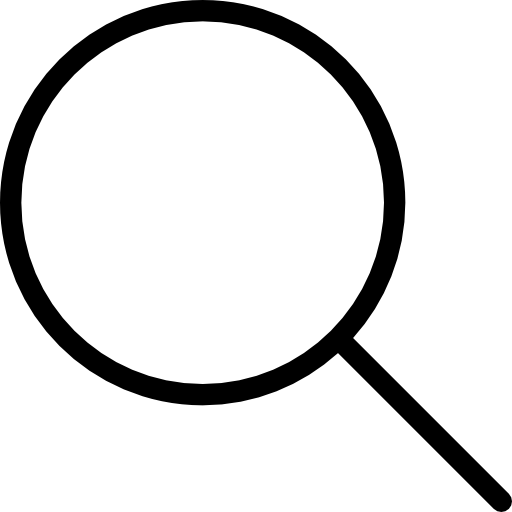ENTRE REALIDADE E FICÇÃO
Vera Sílvia, de musa de uma geração a estrangeira
Publicado em 11/02/2021 às 13:03
Alterado em 11/02/2021 às 13:03
 Álvaro Caldas JB
Álvaro Caldas JB
Não escapei do impulso afetivo de escrever sobre uma linda amiga que conheci nos anos ditos de chumbo. Sendo que beleza nela era o de menos. E chumbo é aquele metal cinzento e pesado, mas ela era muito levezinha e graciosa. O desejo me veio repen-tinamente ao rever fotos suas que circularam pelas redes nos grupos de amigos, por oca-sião de seu aniversário. No último dia 5, faria 72, menos de uma dezena de anos abaixo de minha escalada rumo aos oitenta. Ela foi consagrada como uma espécie de musa de uma geração rebelde, que viajou embalada pela volúpia de certezas e de ações para a transformação da História.
Pouco antes de morrer, aos 59 anos, a carioca Vera Sílvia Magalhães, economista e guerrilheira, declarou-se uma estrangeira em seu próprio país. O que me levou a escrever-lhe uma “Carta a uma estrangeira”. Em sua resposta, ela se lembra dos suplícios pelos quais passou. Fala da terrível proximidade física entre torturadores e torturados e sinteti-za sua fragilidade numa frase desoladora: “Herdei da tortura um estado de dor.” Somen-te depois de muitos anos de análise, internações e sofrimento, pôde dizer que tudo isso pode parecer irrelevante, mas nunca esqueceremos essa dor.
Visionária, ela pressentiu esse mal estar que vivemos hoje aos nos confrontarmos com a intolerância e o absurdo, temas presentes na obra de Camus e em seu personagem central de O Estrangeiro. Por aqui se pode ver que ela antecipa este constrangimento terrível que nos acossa, quando a violência e a estupidez, a miséria cultural e política nos fazem prisioneiros e estrangeiros em nosso próprio país. Vera captou este sentimento de exclusão que tomou conta dos brasileiros, e vai se disseminando numa lenta e embrute-cedora tragédia, com as mortes diárias da covid e o desespero social.
Vera Sílvia começou suja atividade política muito jovem, 16 anos, na Dissidência Estudantil da Guanabara, um racha de parte ponderável do movimento estudantil dentro do PCB, o Partidão. Além de economista e guerrilheira, depois se tornou socióloga. Par-ticipou do sequestro do embaixador americano, Charles Elbrick, em setembro de 69, e nove meses depois foi trocada, junto com outros 40 presos pela libertação do embaixa-dor alemão, von Holleben. Saiu numa cadeira de rodas com destino a Argel.
Na improvisada e tumultuada casa da Dissidência - ah, essa Dissidência! - idade média de 23 anos, se formou e se forjou ao lado de uma centena de outros jovens, já desligados de suas famílias, a maioria vivendo clandestinamente. Estudou os principais autores marxistas, leu os grandes romancistas, viu os filmes do cinema novo e da nou-velle vague como se estivesse flanando pelas ruas de Paris, encantou-se com a Montanha Mágica, de Thomas Mann.
A década de 60 ofereceu uma enorme variedade de estímulos culturais para quem quisesse abrir os campos de referências. No cinema, no teatro, na literatura, na política, tudo se misturava numa apaixonada arte da transgressão. A partir de um dado momento mágico, as conversas passaram a ser dominadas pela aventura da luta armada, o foco e suas variadas concepções, tema de encarniçadas discussões entre os grupos, que levavam a novas dissidências. Que teve seu momento delirante de glória em 1969, com o seques-tro do embaixador norte-americano, do qual Dadá participou.
No final da primeira parte de seu diário sobre a guerra civil espanhola, A Esperan-ça, André Malraux atribui a um voluntário aviador, seu colega, a seguinte observação dirigida a um revolucionário desesperado: “O apocalipse quer tudo, e tudo imediatamente. A determinação obtém pouco, devagar e com muita dureza. O perigo é que todo ho-mem traz dentro de si um desejo de apocalipse. Em combate, este desejo, após um perí-odo muito curto de tempo, significa derrota certa.”
Numa resenha sobre o meu livro Balé da Utopia, o jornalista Irineu Guimarães, correspondente do Le Monde no Brasil, identifica essa poção apocalíptica nos jovens de 68. E vislumbra na transgressão da arte a saída. Da Dissidência aproximaram-se outras pequenas organizações revolucionárias. Juntas, trouxeram para as ruas, para as manifes-tações, as passeatas, as portas de fábricas, os assaltos a bancos, os bares e até a calçada do cine Paissandu, no Flamengo, com seu bar lotado, um punhado de jovens lindas, exuberantes, de todas as cores. Vera Sílvia não reinou sozinha.
Do tronco feminino desta árvore germinou uma penca de mulheres exuberantes. Repassando assim sem compromisso me lembro da Ieda e da Tânia, da Fnfi; das Lúcias, a Murat e a Velloso; da Ângela, o anjo louro da PUC; da Olga, a D Arc; da Nacinovic, que foi para São Paulo; da Dulce, que veio de Recife e da Nancy que para lá foi; da Sô-nia do Stuart; da Iara, da Emília, da Marilena, da Inês, da Soledad e da Pauline; da Li-gia Maria e de outra Maria, a Dora, um punhado de moças arrebatadoras, que os escrotos comandantes militares da repressão, em suas casas da morte, desnudaram, abusaram, violentaram e mataram nas câmeras de tortura.
Conheci Vera Sílvia mais tarde, final dos anos 90, passada a fase da barra mais pe-sada e de seu exílio. Junto com o amigo Sérgio Campos, da velha guarda da Fnfi, e do goiano Rafton, íamos visitá-la em seu apartamento na rua Rainha Elisabeth, Ipanema. Noitadas de longos papos, vinhos e queijos, quase sempre com a presença de seu filho Felipe. Ela já doente, sofrendo com o tratamento de um câncer reincidente. Para mim e Chê Campos foi como se estivéssemos nos penitenciando por não tê-la conhecido antes, na fase dos embates e combates.
Porque a estrangeira era uma mulher de afetos. Dizia: “Sou uma estrangeira em qualquer lugar”. E era muito engraçada, gostava de piadas sacanas e de andar de bicicle-ta, enquanto pôde. Tinha amigos dependurados em todos os grupinhos, independente de ciúmes e sectarismos políticos reinantes, Falava horas ao telefone, tomava chá preto an-tes de deitar. Tirava remédios de várias caixinhas, confundia os tranquilizantes e mesmo assim não conseguia dormir.
Na verdade, já a tínhamos visto antes, no inicio da década de 60, justamente na tela do cine Paissandu, em Jules e Jim, o filme em que Truffaut nos apresentou Jeanne Moreau, outra musa desta geração. Em Uma mulher para dois, Truffaut provoca uma revolução nos costumes ao mostrar Catherine/Moreau com um sorriso esfuziante corren-do dentro de um túnel ladeada por seus dois apaixonados namorados. Uma musa pela outra, Vera Sílvia ficaria bem no papel de Moreau. Como também ficaria bem com István Szabo, o cineasta húngaro de Mephisto, que gosta de contar histórias de pessoas expostas ao forte vento da História.
*Jornalista e escritor