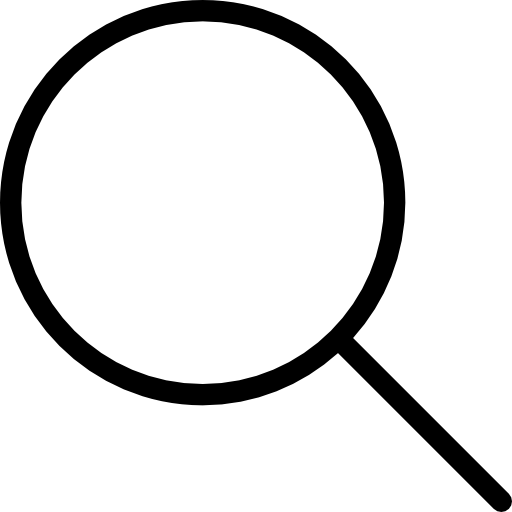Por Coisas da Política
[email protected]
COISAS DA POLÍTICA
Polis (cidade), como repensar a política?
Publicado em 11/07/2021 às 08:17
Alterado em 11/07/2021 às 08:17
 Centro do Rio de Janeiro Foto: Reuters/Ricardo Moraes
Centro do Rio de Janeiro Foto: Reuters/Ricardo Moraes
Caro leitor, convido-o a uma viagem na História para examinar o sentido da política, da vida em grupo, em sociedade, em aglomerados (embora na pandemia, não possamos ainda voltar às aglomerações). Que tal especularmos sobre a vida política na sua essência, que foi aperfeiçoada nas discussões iniciais da organização das cidades-estados na Grécia Antiga? [Nem tudo deu certo. Houve a guerra entre Atenas e Esparta. Mas isso é anterior à unificação do Estado Grego]. O objetivo final é repensarmos as nossas cidades. A palavra Pólis (que dá origem à política) significa cidade-estado. Na Grécia Antiga (na Mesopotâmia e entre os cretenses, sírios, fenícios, etruscos e romanos), a polis era um pequeno território localizado estrategicamente no ponto mais alto da região (para observar o ataque de inimigos), e cujas características eram equivalentes a uma cidade. O surgimento da polis, ou seja, de um aglomerado urbano, abrangia toda a vida pública de um pequeno território, geralmente protegido por uma fortaleza. Mas as polis antigas já tinham discriminação: escravos, a ralé e membros das populações subjugadas não tinham voz e vez nas polis. Até a desagregação da sociedade homérica, constituída pelos genos - comunidades agrupadas em torno de antepassado comum e chefiadas por um pater (o chefe patriarca da comunidade, origem da palavra pátria). Quando os habitantes de povoações disseminadas transferiram a sua residência para perto das fortalezas, a acrópole se converteu no centro político da pólis. Na organização social das polis, os cidadãos livres discutiam e elaboravam as leis relativas à cidade. Dentro dos limites de uma polis ficavam a Ágora e a Acrópole, além dos espaços urbano e rural, pois a agricultura era a base da economia local. A Ágora era uma grande praça pública, um espaço onde os cidadãos se reuniam para atividades comerciais, discussões políticas e manifestações cívicas e religiosas. A Acrópole era uma fortificação onde estavam os monumentos, os templos e os palácios dos governantes.
Tudo isso está enfeixado no Centro do Rio de Janeiro. Só está faltando o povo. Ou melhor, os governantes perceberam que a necessidade de reurbanização das nossas cidades não é decorrência apenas da disseminação do trabalho em casa na pandemia, que deixou os tradicionais escritórios no Centro ociosos, como arma de defesa contra as aglomerações nos meios de transportes, no ir e vir da casa ao trabalho. É também uma imposição da questão climática, para mitigar o aquecimento global, que pede o melhor uso da energia, sobretudo a derivada de fontes fósseis, como o carvão e o petróleo e gás. Nada melhor, portanto, que aproveitar a oportunidade. A prefeitura do Rio, através de projeto do secretário municipal de urbanismo, Washington Fajardo, elaborou, após ampla consulta pública, projeto de reurbanização do Centro que ainda parece tímido para os desafios presentes e futuros. O BNDES anunciou intenção de captar fundos no valor de R$ 800 milhões para projetos ambientais. É muito pouco.
Somos um país urbano: 85% dos 213 milhões de brasileiros vivem nas grandes cidades e regiões metropolitanas. É nelas que estão concentradas as maiores mazelas brasileiras: o mercado de trabalho e o desemprego, a miséria, a fome, a violência e o tráfico de drogas, desigualdade social e todos os conflitos inerentes. É nas cidades que os vírus da Covid-19 encontram mais campo para a mutação em novas cepas e onde há mais mortes. É nas cidades que a vacinação tem de avançar. E onde estão os grandes problemas brasileiros. Por isso, é para elas que devemos pensar, discutir e construir grandes soluções. Especialmente a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, cujo centro histórico se esvaziou dramaticamente com a adoção do trabalho remoto em casa (“home office” é o cacete, diria meu amigo Ancelmo Gois).
Realmente, não faz sentido que o Centro da cidade, bem suprido de serviços públicos (transportes, incluindo metrô e VLT, energia, iluminação, comunicações, drenagem, limpeza urbana), “morra” a partir das 18 horas de 6ª feira até às 9 horas de 2ª feira. Muito dinheiro público e privado foi investido nela em quatro séculos. Vale repensar a ocupação da área com residências, onde antes só havia escritórios, para aproveitar o acervo cultural. O grande Manuel Bandeira morou muitos anos num prédio na avenida Beira-Mar, esquina com Presidente Antônio Carlos, a uma quadra da Academia Brasileira de Letras e do Bar Vilariño, onde batia ponto. A crise de energia é oportunidade para se “retrofitar” prédios do Centro. A caixa preta de vidro fumê do BNDES podia dar lugar a painéis de energia solar como ícone da reciclagem de área urbana. O Rio é o exemplo mais emblemático, mas São Paulo e várias capitais têm problemas semelhantes. Nossa classe dirigente parece ignorar a realidade.
Do ponto de visto energético e ambiental, as aglomerações urbanas criaram tantos vícios que geraram deseconomias. As cidades são grandes consumidoras de energia - a elétrica e os combustíveis demandados para o transporte de passageiros e a demanda de suprimentos de mercadorias, sobretudo alimentos e materiais de construção. O modelo brasileiro de expansão urbana, sobretudo no Sudeste, região mais populosa e de maior peso econômico do país, está no limite, como mostra o gargalo da crise energética. Os aproveitamentos hidroelétricos do Sudeste e bacias hidrográficas contíguas se esgotaram. Nos últimos 40 anos, o país teve de fazer novas usinas em regiões distantes. Nem tudo teve alto aproveitamento quanto a binacional de Itaipu, no rio Paraná, na divisa com o Paraguai.
Os lagos das usinas hidroelétricas na região Norte invadem grandes áreas de florestas. Agridem o habitat de tribos indígenas que lá habitavam antes do país ser descoberto pelos portugueses há 521 anos. Mesmo usando turbinas a fio d’água, como Belo Monte (PA) e as hidroelétricas do rio Madeira (AC). Esse tipo de usina faz menos devastação que Balbina (AM), que enfeixou todos os erros de falta de planejamento. Para gerar 250 Megawatts acabou inundando uma área de 2.360 quilômetros quadrados no município de Presidente Figueiredo. E só gera, em média, 55 MW de energia. Um desastre total. Mas essas hidrelétricas distantes dos centros de consumo do país exigem imensas e custosas linhas de transmissão de energia para o Centro-Sul do país. A capacidade de consumo pela industrialização na região Norte não será atingida neste século. E o mais paradoxal é que Manaus, maior cidade da região, não tem abastecimento garantido de energia elétrica. O gás natural de Urucu, atual Azulão, descoberto na bacia do rio Solimões pela Petrobras, foi negociado para o grupo Eneva, mas não chega a Manaus, que poderia ser suprida por termelétricas a gás. Sem linhas de transmissão de energia elétrica, a cidade usa poluentes usinas a óleo combustível e diesel.
No Nordeste houve grande avanço da energia eólica, em projetos desenvolvidos sobretudo no Rio Grande do Norte, no começo do século, após a crise energética de 2001, e mais recentemente em Pernambuco e Bahia. A energia solar também avançou na região, com “fazendas solares” no Piauí, Ceará e Bahia (Chapada Diamantina). A geração eólica tem superado até a geração de energia de origem hídrica, nas usinas do complexo de Paulo Afonso. O problema é que não há linhões de transmissão para o “transporte” desta energia excedente para o Sudeste. Assim, o reservatório de Sobradinho, no rio São Francisco, vai ganhando mais importância por armazenar água a ser transposta para irrigar o sertão de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, do que para gerar KW. O caminho natural, diante da oferta de energia, seria a atração de indústrias para os nove estados da região.
Entretanto, há muito, falta um plano plurianual concebido pelos governos para ajustar o futuro do país. JK fez isso com o Plano de Metas para “construir 50 anos em 5”, com o binômio energia e estradas, que foi a chave para a atração de projetos de matrizes da indústria automobilística. Vá lá que, na realidade, vieram para o Brasil matrizes que saíram de linha na Europa, com a modernização da indústria e da infraestrutura bancadas pelo Plano Marshall (vencedores da 2ª Guerra, os Estados Unidos viram que não tinham parceiros comerciais na Europa e economia vive de trocas e parcerias). O último plano digno de nome foi o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) do governo Geisel, que promoveu a substituição de importações e a modernização industrial do país para enfrentar a crise do petróleo. De fato, em 1978, o rombo na balança comercial foi zerado. Mas a nova alta do petróleo em dezembro de 1979 esgarçou tudo, levou à crise da dívida externa e à renegociação no final de 1982.
Vale lembrar que a construção de hidroelétricas (como Itaipu) e o veto à instalação de novas indústrias em São Paulo no governo Geisel evitaram que o colapso energético paralisasse o Brasil já nos anos 80. O desenho atual da indústria automobilística – que praticamente abandonou o berço do ABC (Santo Amaro, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul) e se espalhou por Betim (MG), com a Fiat, com unidades em PE, a Volvo Caminhões no Paraná e assim por diante. A GM tem hoje fábricas no interior de SP e no Rio Grande do Sul. A Ford resolveu sair do Brasil e fechou a fábrica de Camaçari-BA, criada nos anos 90, quando encerrou as atividades em São Bernardo, a Toyota e Honda foram para o interior, assim como a Volks e a Mercedes-Benz. Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina hoje têm fábricas de automóveis.
Todas essas indústrias e a agroindústria, que transforma grãos, vegetais e animais em alimentos semi processados e se tornou o mais importante segmento da indústria de transformação, são altos consumidores de energia elétrica. Não vejo o Ministério da Economia, que enfeixou as pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Trabalho e Previdência, se articulando com o de Minas e Energia para repensar o Brasil para os próximos 30-50 anos. As metas do clima do Acordo de Paris para 2060 foram antecipados pelos principais países desenvolvidos para 2050. Só o Brasil, que negou o óbvio – o desmatamento criminoso da Amazônia, alvo ainda de agressões pela exploração predatória do garimpo de ouro em terras indígenas – segue fazendo cara de paisagem (devastada) para a urgência de medidas.
Para o engenheiro elétrico e economista Manuel Jeremias Leite Caldas, a questão energética exige novos paradigmas que devem conversar com a questão ambiental no meio urbano. Ele defende ousadia no projeto da prefeitura do Rio de Janeiro (copiável por grandes metrópoles) para aproveitar a ideia de tornar prédios comerciais ociosos no Centro do Rio em prédios de uso misto (comercial e residencial). O Centro tem transportes e todos os equipamentos urbanos. A reocupação deste privilegiado espaço urbano (menos adensado que bairros como Copacabana, Ipanema, Leblon ou Tijuca) deveria ser precedido pela “retrofitagem” energética de grandes edifícios comerciais. Manuel Jeremias cita a sede do BNDES, na Avenida Chile, em frente à Petrobras, como exemplo. Inaugurado no começo dos anos 80, com vidros fumês escuros, sempre foi criticado por atrair energia solar e, assim, demandar alto consumo de energia elétrica em seu sistema de ar condicionado central. Nos últimos anos, a gestão do edifício caminhou para práticas mais ecológicos. Não é um “prédio verde”, mas poderia avançar para tal se aplicasse painéis de energia solar por cima dos vidros de suas quatro laterais que reforçaram a lenda de ser “uma caixa preta”. Manuel Jeremias acredita que vários outros prédios poderiam adotar o mesmo sistema, ficando auto-suficientes em energia. Como os dois prédios de Furnas Centrais Elétricas que estão sendo desativados em Botafogo.
Os custos da energia solar estão caindo em todo o mundo e poderiam baixar ainda mais no Brasil, com economia de escala e uso mais eficiente de novos materiais. A China domina a tecnologia das placas de energia solar, mas o Brasil dispõe de matéria prima para aumentar a eficiência das placas, com menor dissipação do calor absorvido: o grafeno, extraído do grafite. O presidente Jair Bolsonaro, vira e mexe, fala maravilhas do grafeno e foi visitar um projeto de aproveitamento do grafeno em Caxias do Sul (RS). Infelizmente, um dos usos que ele parece apreciar e incentivar mais é o desenvolvido pela fábrica de armamentos Taurus em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. A fabricante de armas está injetando polímeros de grafeno para diminuir o peso e aumentar a resistência e a resiliência das armas de fogo. Por sua origem militar e o flerte preferencial com a morte (só na Covid-19 chegamos a 535 mil), o presidente foi testar a primeira arma de fogo que usa grafeno.
O cidadão pede atenção para coisas mais pacíficas e construtivas.