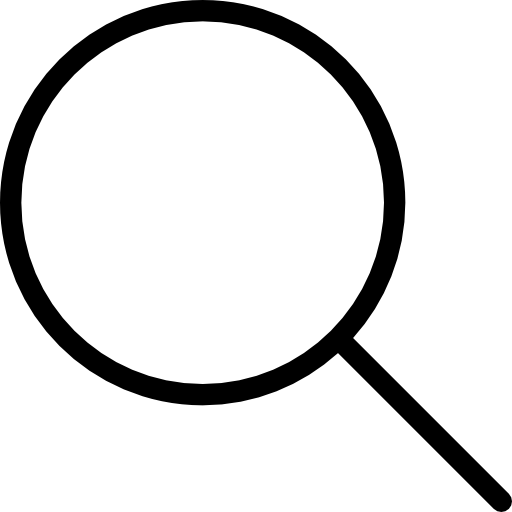ARTIGOS
Linguagem, inclusão e responsabilidade: um debate necessário para o Brasil de hoje
Por JEAN PAUL PRATES
Publicado em 19/11/2025 às 18:52
Alterado em 19/11/2025 às 18:52
.
A recente sanção presidencial que veda o uso de formas de linguagem neutra na administração pública reacendeu um debate importante sobre como o Estado deve se comunicar com a sociedade e qual é o lugar das transformações linguísticas no Brasil contemporâneo. O tema não é novo, mas ganhou intensidade à medida que movimentos identitários passaram a reivindicar maior representatividade no espaço simbólico das palavras, reivindicando o uso de expressões como “todes”, “elu” ou flexões alternativas de gênero.
É saudável que a sociedade discuta sua própria língua. O idioma é uma construção coletiva, viva e dinâmica, que se transforma ao longo do tempo. Ninguém que conheça a história do português ignora que ele já incorporou inúmeras mudanças profundas, desde o vocabulário até a estrutura sintática. A língua se adapta à vida real. E isso é bom. É assim que se preserva a vitalidade cultural de um povo.
Entretanto, o que está em discussão agora ultrapassa a esfera do debate cultural e entra no campo da comunicação institucional do Estado, que deve obedecer a critérios específicos de clareza, segurança jurídica e universalidade. Documentos oficiais, atos normativos, comunicados públicos e serviços essenciais dependem de uma linguagem plenamente compreendida pela totalidade dos cidadãos. É nesse ponto que a decisão presidencial acerta ao estabelecer um parâmetro claro: a administração pública deve seguir as regras da gramática e do uso formal do português brasileiro.
Isso não significa negar a discussão identitária nem minimizar a importância da inclusão. Ao contrário. O debate sobre linguagem neutra revela, antes de tudo, a busca legítima de grupos que desejam reconhecimento e pertencer plenamente à sociedade. O sentimento de não se ver representado na língua que se fala é real e merece ser ouvido com respeito. No entanto, transformar esse debate em norma administrativa, sem que o idioma tenha passado por processos naturais de consolidação ou aceite institucional pelas instâncias responsáveis, criaria um ambiente de incerteza e dificultaria a comunicação que deveria ser, acima de tudo, acessível e inequívoca.
A administração pública não pode gerar confusão. Seu compromisso é com a clareza. Quando um texto legal, um manual de serviço, uma portaria ou uma orientação ao cidadão utiliza termos que não constam dos dicionários, não são reconhecidos pela norma culta ou não têm aplicação uniforme, o resultado é desigualdade comunicacional. Alguns entendem, outros não. E a comunicação pública não pode ser excludente.
O Estado tem a obrigação de falar para todos. E falar bem significa falar de modo claro, direto e compreensível. Uma notificação fiscal, por exemplo, não pode deixar margem para confusão. Um edital de concurso não pode empregar formas linguísticas que gerem dúvidas. A comunicação entre governo e sociedade precisa ser estruturada sobre um terreno estável, e a língua portuguesa, tal como normatizada pelas instituições responsáveis, oferece esse alicerce.
Mas há também um segundo aspecto relevante. A discussão sobre linguagem neutra não deve ser tratada como embate cultural ou guerra ideológica. O Brasil tem sido vítima de polarizações artificiais que criam trincheiras simbólicas onde deveria haver serenidade. É possível reconhecer a legitimidade das demandas por inclusão, ao mesmo tempo em que se protege a integridade funcional da escrita administrativa. Esses dois valores não são excludentes. Pelo contrário: podem conviver de maneira harmoniosa, desde que haja respeito às etapas naturais de evolução do idioma.
A língua muda, mas muda no tempo da sociedade, não no tempo da política. Muda pelo uso, pela disseminação cultural, pela aceitação coletiva. E só depois pelas academias normativas. Toda mudança linguística duradoura seguiu esse ciclo histórico. Forçar alterações estruturais de forma abrupta e sem repertório comum pode gerar ruído, não inclusão.
A decisão do Presidente Lula, portanto, abre uma oportunidade: fortalecer a linguagem simples na administração pública e aprimorar a forma como o Estado se comunica. Ao mesmo tempo, não fecha as portas para a discussão mais ampla sobre linguagem e identidade. Ela apenas reconhece que há esferas distintas: a da comunicação oficial, que exige rigor, e a da evolução cultural da língua, que exige liberdade, debate e amadurecimento.
É possível avançar em inclusão sem sacrificar a coerência normativa. É possível tratar com respeito indivíduos que preferem outras formas de expressão, sem impor ao conjunto da sociedade uma mudança que ainda não foi absorvida. É possível defender minorias sem abrir mão da estabilidade comunicacional. A democracia é, afinal, o espaço nobre do equilíbrio.
O idioma português continuará mudando, como sempre mudou. Mas o Estado deve comunicar-se de forma simples, clara e inteligível, porque o direito à compreensão é um direito de cidadania. E a cidadania começa por entender o que o Estado diz.
Essa é uma discussão que merece maturidade. Sem radicalismos. Sem caricaturas. Reconhecendo a pluralidade da sociedade brasileira, a importância das instituições linguísticas, a necessidade de inclusão e a responsabilidade da comunicação pública.
A língua é nossa. É de todos. E é justamente por isso que deve ser tratada com cuidado, respeito e clareza.
Jean Paul Prates é ex-senador da República